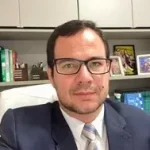O Direito, como se sabe, viabiliza-se por meio da comunicação, posto que se traduz em fenômeno de interatividade subjetiva, regulador da vida social em determinado espaço histórico, logo abrigando uma multiplicidade de práticas e manifestação de significação. Assim, o Direito é precipuamente prática de linguagem com contornos próprios, sendo, pois, nítida intervenção do homem sobre o homem, refletindo, como corolário, as vicissitudes das relações sociais.
Dentro desse contexto, era natural que a linguagem jurídica, com o passar dos anos, sofresse críticas pelo seu hermetismo, considerado exagerado por aqueles que não tinham intimidade com suas nuances. Essa pressão exógena dos demais agentes destinatários da linguagem do Direito criou um clima propício dentre aqueles atores do mundo jurídico que também sufragavam o pensamento de que a comunicação jurídica deveria passar por mudanças que proporcionassem melhor acessibilidade ao seu conteúdo semântico. Essa mudança era uma tentativa de torná-la palatável a todos, sem distinção, como se isso fosse possível num país de tantas desigualdades. De todo modo, esse movimento ganhou força e se transformou numa bandeira de luta nacional contra o “juridiquês”, expressão cunhada para designar a linguagem jurídica boçal, praticada por aqueles que se esmeravam na qualidade.
O movimento contra a boa linguagem jurídica ganhou força e adeptos ilustres, capazes de transformar a luta em uma ação que tem por escopo o “aperfeiçoamento da linguagem”, transformando-a, segundo eles, numa ferramenta eficaz que possa ser assimilada por todos. Uma proposta de vulgarização da linguagem jurídica. O resultado, contudo, está sendo desastroso. O movimento, ainda em processo de execução, abrigou um aviltamento progressivo do uso da gramática pelos operadores do Direito que pisoteia, sem qualquer escrúpulo, a ortografia, a sintaxe e o próprio conteúdo do texto jurídico, apequenando a linguagem como veículo do Direito.
De uma hora para outra, o uso do bom português se transformou em babaquice intelectual, num desprestigio à ciência e ao processo idôneo de comunicação dentro de determinada área do conhecimento humano. A consequência é a produção em massa de uma geração de operadores do Direito avesso à boa linguagem jurídica que aceita, sem melindres, ser tripudiada pelo mesmo povaréu que a incentiva a abdicar das regras comezinhas da gramática normativa. A ciência jamais irá perder seus processos endógenos de comunicação, daí o movimento da “gramática às favas” ser um interlocutor fervoroso da tentativa de destruir os pilares necessários para a eficácia da ciência como processo permanente e metodológico para o desenvolvimento humano, traduzindo-se com um mal a ser extirpado, máxime quando se revela agente da mediocridade, capaz de aniquilar anos de investigação científica. O desafio agora é tentar voltar à caverna da boa linguagem jurídica.